O Que é a Teoria Científica?
9 de julho de 2013 Deixe um comentário
O Que é a Teoria Científica?
Em 09 de Julho de 2013, por Mark R. Crovelli
 Imagine por um momento que você é onisciente. Incorporado desse conhecimento, você poderia compreender completamente como o mundo “funciona”. Você compreenderia completamente como funciona a luz, como os átomos e moléculas funcionam, como funciona a genética, como funcionam as placas tectônicas e como o universo veio a existir. Não haveria nada nos mundos natural e social que você não entenderia por completo.
Imagine por um momento que você é onisciente. Incorporado desse conhecimento, você poderia compreender completamente como o mundo “funciona”. Você compreenderia completamente como funciona a luz, como os átomos e moléculas funcionam, como funciona a genética, como funcionam as placas tectônicas e como o universo veio a existir. Não haveria nada nos mundos natural e social que você não entenderia por completo.
Fosse você incorporado de tamanha onisciência, você não daria nenhuma utilidade para a “ciência”. Você não teria nenhuma necessidade de estudar o mundo de uma forma paciente e sistemática, pois você já possuiria todo o conhecimento sobre o mundo que a ciência poderia apenas ter a esperança de demonstrar. A ciência poderia apenas chateá-lo a ponto de lágrimas; ela pareceria ser um meio imperfeito e profundamente entediante de chegar ao conhecimento que você já possui.
Infelizmente, entretanto, nenhum ser humano possui onisciência. Nascemos no mundo sem o conhecimento de como a luz funciona, como os átomos e moléculas funcionam, como funcionam as placas tectônicas e como o universo veio a existir. Também nos falta o conhecimento perfeito sobre o funcionamento do capitalismo e do socialismo, da democracia e da monarquia e como funciona o controle de preços.
Nossa incerteza com relação ao funcionamento dos mundos natural e social restringe nossa habilidade em agir. Nossa incerteza sobre o funcionamento das placas tectônicas nos restringe a prever e controlar terremotos. Nossa falta de conhecimento sobre o funcionamento da luz nos restringe a aproveitar inteiramente o seu poder para nossos propósitos. E nossa incerteza com relação ao funcionamento da democracia e da monarquia restringe nossa capacidade de construir sistemas políticos e econômicos que sejam bem adequados à nossa natureza. Essa lista poderia se estender ad infinitum.
Não somos despojados de mecanismos para entendermos como o mundo funciona. Não somos, como os animais brutos, amaldiçoados a lutar por nossa existência em um mundo que nunca entenderemos ou seremos capazes de aprender a retirarmos o nosso sustento. Possuímos a razão e a memória a nossa disposição que, com a ajuda de nossos sentidos, nos permitem examinar o mundo e aprender como seus elementos funcionam. Essas fantásticas habilidades mentais nos fornecem meios para investigar o mundo na esperança de extirpar pelo menos um pouquinho nossa ignorância natural e nossas incertezas.
Nossas fantásticas habilidades mentais, entretanto, não nos fornecem informações infalíveis sobre o funcionamento do mundo. Podemos entender errado o que está acontecendo e raciocinar superficialmente. Nossos sentidos podem nos enganar e nosso pensamento pode se tornar nebuloso, distorcido, tendencioso ou míope. Além de tudo isso, o mundo em que vivemos é tão grande e complexo e nosso tempo tão escasso, que cada um de nós é limitado a uma pequena porção de conhecimento que poderemos armazenar.
Portanto, apenas trabalhando e aprendendo com outras pessoas podemos nós, como indivíduos, aprender mais que a mínima fração sobre o funcionamento do mundo. Dessa forma, podemos tirar vantagens por meio da divisão do trabalho intelectual que nos permite investigar aspectos bastante específicos do mundo e então dividir os frutos de nossas investigações com o restante da humanidade. Essa especialização e o intercambio de idéias nos permitem a economia de nosso escasso tempo, permitem que aprendamos mais sobre o mundo que, caso contrário, poderíamos aprender como indivíduos isolados. E isso ainda serve como checagem do raciocínio falível de cada indivíduo.
O conceito de “ciência” no mundo ocidental foi cunhado de modo a conectar a comunidade de indivíduos que estão empenhados em estudar o mundo de um modo especializado, sistêmico e verificável intersubjetivamente. Idealmente, essa comunidade científica acumula conhecimento sobre o funcionamento do mundo tão logo indivíduos aprendam das investigações especializadas de seus colegas e construam sobre elas, bem como pelas críticas da comunidade científica e do refinamento das teorias com o passar do tempo.
O processo pelo qual a comunidade científica investiga o mundo não é mágico ou um caminho automático para a iluminação ou à onisciência. As teorias que são moldadas na comunidade científica em um momento específico podem ou não descrever o verdadeiro funcionamento do mundo. Comunidades de indivíduos especialistas, assim como os próprios especialistas, podem ser vítimas de erros intelectuais. Eles podem interpretar erroneamente os acontecimentos e podem analisá-los com demasiada superficialidade. Seus sentidos e observações podem enganá-los e suas conclusões podem ser nebulosas, míopes e tendenciosas.
O problema crítico e inexorável que a comunidade de especialistas encara, no entanto, é saber se as teorias padrão que utilizam descrevem com acurácia e precisão o funcionamento do mundo. Essa incerteza sobre a precisão de suas teorias científicas surge, mais de uma vez, do fato de que nenhum membro da comunidade é onisciente. Nenhum membro da comunidade científica está na posição de dizer com total certeza se alguma das teorias descreve com precisão, ou não, o funcionamento do mundo.
Se pelo menos um dos membros dessas comunidades especialistas fosse onisciente, seria possível apelar para o seu conhecimento como um assessor objetivo sobre teorias científicas. Nesse caso, entretanto, o assessor onisciente não teria nenhum problema em descrever ele mesmo o funcionamento do mundo utilizando a palavra desajeitada “teoria”. Ele apenas diria que “o mundo funciona assim…”, ou que “o mundo não funciona assim…”. Se tal pessoa existisse, além do mais, a prática da ciência cessaria imediatamente, pois qualquer conhecimento específico do mundo seria obtido dessa pessoa onisciente, sem a necessidade de estudos entendiantes e imprecisos realizados “cientificamente”.
Pelo fato de as comunidades científicas não contarem com essa pessoa onisciente entre seus membros, foi desenvolvida uma “metodologia científica” para tentar lidar com as incertezas relacionadas com as suas teorias. A “metodologia científica”, que consiste em desenvolver hipóteses e testá-las contra experiências empíricas, não produz nenhum conhecimento para a comunidade científica, todavia. Ela meramente serve como obstáculo, com algum grau de dificuldade, contra a produção de informações imperfeitas que a maioria dos cientistas consideraria implausível, inverificável e como teorias bobas.
A capacidade de esclarecer esse pequeno obstáculo, entretanto, de forma alguma pode ser interpretada como verificação de uma teoria, ou prova de sua verdade, porque várias outras teorias alternativas poderiam sempre ser imaginadas e também poderiam ser consistentes com os “fatos” empíricos [1]. O método científico não supre a comunidade científica com um meio de determinar qual teoria, se alguma, fora dos conjuntos sem limites de teorias alternativas que poderiam ser sonhadas para explicar o mesmo fenômeno empírico está “correta”. E esse método científico também não supre a comunidade científica de nenhum meio de saber com certeza se seus membros não estão entendendo erroneamente a evidência empírica. Apenas um ser onisciente poderia saber essas coisas com certeza.
Pelo fato de a evidência empírica não falar “por si mesma” e pelo fato de os cientistas não serem oniscientes (e assim não saberem se eles estão corretamente interpretando evidências empíricas), os cientistas não podem nunca saber com certeza se suas teorias descrevem corretamente a realidade empírica. Isso significa que nenhuma teoria que se apóie sobre a interpretação de evidência empírica poderá ser mais que apenas uma afirmação subjetiva de credo sobre como uma parte do mundo funciona, baseando-se em alguma evidência empírica [2].
Essa definição é inevitável, pois nenhum cientista está em uma posição onisciente para saber com certeza se interpretou a evidência empírica corretamente, ou mesmo se a sua teoria é a “correta” dentro de um conjunto infinito de alternativas que poderiam ser imaginadas para explicar um dado fenômeno.
Isso não é dizer que as teorias científicas que se apóiam na interpretação de evidências empíricas sejam inúteis ou sem significado, simplesmente porque elas são afirmações subjetivas de credo pessoal. Nem isso implica em afirmar que todas as teorias científicas empiricamente derivadas sejam igualmente plausíveis ou de que todas devam ser caracterizadas igualmente de outro modo, simplesmente porque todas elas são afirmações subjetivas de crença sobre como o mundo funciona. Do contrário, uma teoria que resta sobre evidência empírica não passa de uma “opinião de algum expert” sobre como o mundo funciona, mas nem por isso ela é inútil – e algumas vezes ela é incrivelmente útil, na verdade – mesmo que se saiba que ela é incorreta em alguns aspectos (e.g. a física newtoniana) [3]. Além do mais, indivíduos são livres para evoluírem a plausibilidade das teorias científicas sobre si mesmos, o que significa que eles são livres para concordarem que algumas teorias empíricas são mais plausíveis que outras.
O fato de as teorias científicas serem afirmações de crença significa, entretanto, que o cientista que afirma ser a sua teoria derivada empiricamente um “fato” ou uma “certeza inegável” não entende as limitações de seu método. Ele está se iludindo – e a todos os que acreditam em suas crenças – se ele acha que é capaz de provar que sua teoria empiricamente derivada é uma “verdade irrefutável”. Apenas um ser onisciente poderia saber com certeza se uma evidência empírica está sendo interpretada corretamente e saber por certo que uma teoria específica tirada de um conjunto infinito de teorias alternativas que poderiam ser imaginadas para explicar um dado fenômeno é a “correta”. Contudo, de novo, um ser onisciente não se incomodaria com métodos científicos chatos e ineficientes, ele meramente diria que “o mundo funciona assim…”, ou que “o mundo não funciona assim…”. Ele certamente não se incomodaria em testar suas idéias contra a experiência empírica, pois ele já saberia o resultado. Portanto, o fato de o cientista se aborrecer em ter que testar suas teorias e hipóteses revela a falta de onisciência e isso também revela, a fortiori, sua incapacidade em saber com certeza se ele está interpretando uma evidência empírica “corretamente”.
De modo a se mover além das afirmações subjetivas de credo pessoal sobre como o mundo funciona, o cientista teria que se tornar onisciente ou contar com a consultoria de alguém onisciente, ou ele precisaria ir além de coletar e interpretar evidências empíricas. Pelo fato de as primeiras opções serem, presumidamente, fechadas a ele, a única opção viável ao cientista é descobrir “fatos” sobre o mundo, ou de partes do mundo, que não podem ser pensadas como falsas e que não estão abertas a interpretações ruins. Em outras palavras, o cientista teria que se transformar de empiricista em um racionalista, aquele que está preocupado em descobrir as verdades fundamentais sobre o mundo (i.e. verdades sobre o mundo a priori) e elucidá-las por meio de métodos dedutivos e racionalistas [4]. Apenas então o cientista estaria na posição de dizer que ele encontrou “fatos” sobre partes do mundo que são “verdades incontestáveis”.
Ao endossar o “método científico” como o único meio de adquirir conhecimento sobre o mundo, o cientista de pensamento empiricista tacitamente admite que é possível descobrir verdades fundamentais sobre o mundo sem ir a campo e testá-las. A proposição “todas as hipóteses e teorias devem ser testadas contra a experiência empírica” pretende ser uma verdade universal e objetiva, mesmo que ela mesma nunca tenha sido e nem possa ser “testada”. Portanto, a proposição é auto contraditória e, conseqüentemente, falsa, um fato que estabelece a possibilidade de descobrir verdades irrefutáveis e demonstráveis sobre o mundo sem sair a campo e testá-las.
Assim, certezas absolutas nas ciências não podem ser adquiridas utilizando o “método científico” (o positivista-empiricista) e a coleção e interpretação de evidência empírica. Para os seres que não possuem onisciência, a coleção e interpretação de evidências empíricas podem apenas sugerir crenças imperfeitas e subjetivas sobre como o mundo funciona. Em oposição, a certeza absoluta nas ciências só pode ser descoberta com proposições sobre o mundo que possam ser conhecidas a priori – proposições que são impossíveis de serem falsas. Essa observação, em uma casca de noz, forma a fundamentação e a grande força da Escola Austríaca de Economia, que permanece virtualmente sozinha no mundo contemporâneo como bastião para pensadores que estão insatisfeitos com as aproximações imperfeitas e subjetivas da ciência convencional [5].
Notas:
[1] Alexander L. George e Andrew Bennett: Case Studies and Theory Development in the Social Sciences (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2004). p. 30.
[2] Em certos aspectos, essa definição subjetiva para teorias científicas empiristas parece a idéia do paradigma científico desenvolvido por pensadores como Thomas Khun e Paul Fayerabend. Pelo que conheço, entretanto, relativistas como Khun e Fayerabend nunca foram tão longe de modo a chamar uma teoria científica empirista de “subjetiva”. E nem afirmaram eles que fosse possível descobrir verdades sobre o mundo que não são relativas. Como poderá ser visto no texto, chamar as teorias científicas empiristas de “subjetivas” de forma alguma implica que é impossível adquirir conhecimento sobre o mundo que é uma verdade objetiva e irrefutável. Apenas significa que teorias que se baseiam na interpretação de evidência empírica não podem ser entendidas como sendo uma verdade objetiva e irrefutável.
[3] sobre a utilidade duradoura da física Newtoniana, a despeito de suas claras deficiências, veja Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (Chicago: University of Chicago Press, 1962).
[4] para uma brilhante elucidação do método racionalista, veja Hans-Hermann Hoppe: A Ciência Econômica e o Método Austríaco; tradução de Fernando F. Chiocca; Instituto Ludwig von Mises, São Paulo, 2010.
[5] sobre as fundamentações a priori da Escola Austríaca, veja Ludwig von Mises, Epistemological Problems of Economics 3rd ed. (Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute, 2003), Ibid., Human Action, (Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute, 1999), Murray Rothbard, “In Defense of Extreme Apriorism,” Southern Economic Journal, January 1957, 23(1), pp. 314-320., Ibid., Man, Economy, and State (Auburn, Ala.: Mises Institute, 2004), and Hans-Hermann Hoppe, op cit.
Publicado originalmente no Mises Daily em 06/01/2012


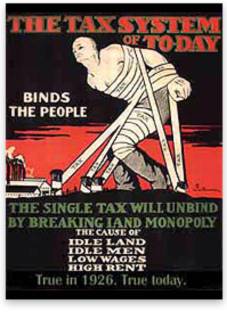

Comentários